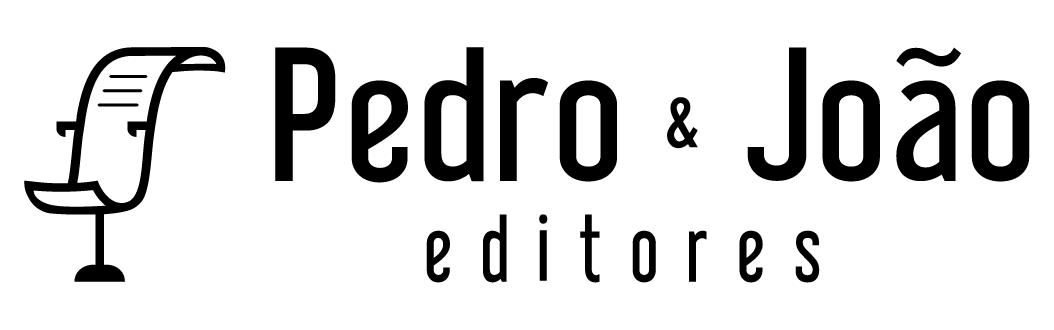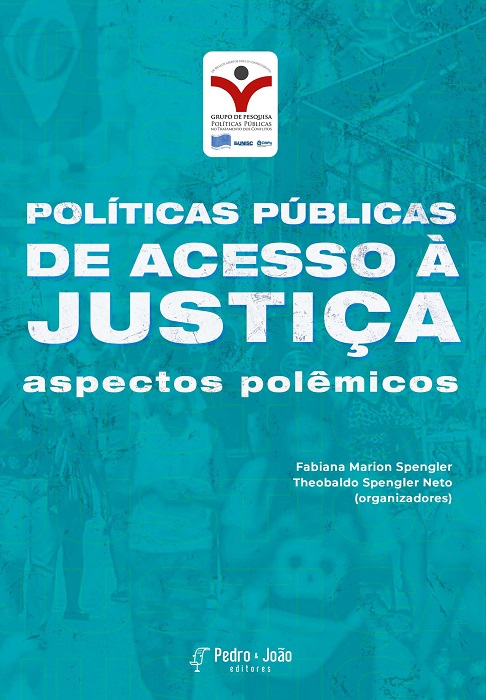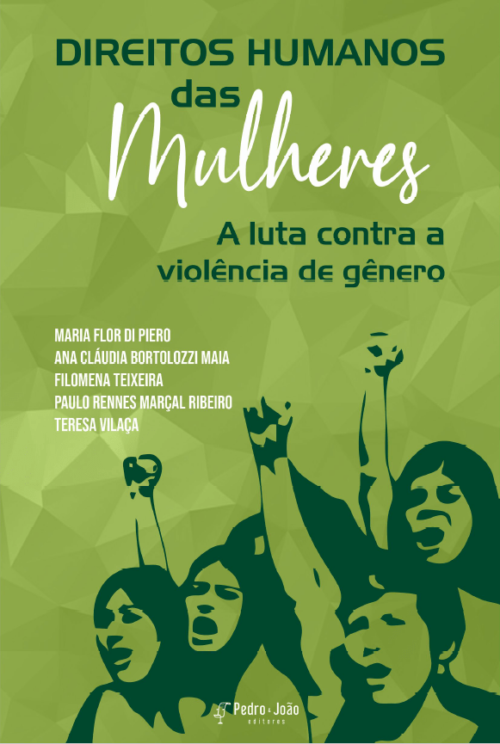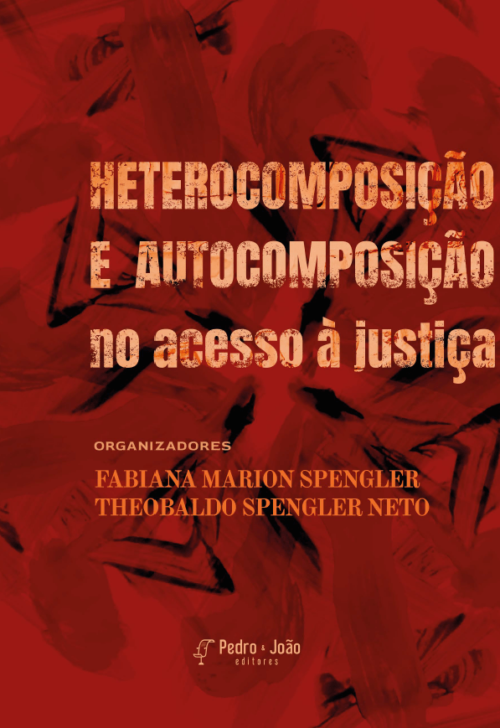BotAfala: ocupando a Casa Grande
Organização: Marcos Carvalho Lopes
PREFÁCIO
Bumuntu: “eu sou porque nós somos”
João Wanderlei Geraldi
Que bonito deve ser um país sem preconceito cultural! Todo profissional de criação, entendendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, deve respeitar a criatividade popular.Misturar culturas é sempre bom.Criar exige um sacrifício, uma abnegação, uma vontade de despretensiosamente colaborar com a humanidade. Não basta ler, pensar. Tem-se que participar, batalhar pela concretização dos sonhos.(Martinho da Vila, Kizombas, andanças e festanças, 1998, p.19).
Quando a Filosofia sai da biblioteca para a rua, para as gentes e para suas vidas, retorna sobrecarregada de sentidos que iluminarão novas leituras do que a herança cultural nos deixou. Sair da biblioteca não é deixar de fazer filosofia. Mas é pensar filosoficamente. Cansado das “introduções à filosofia”, já houve no passado quem propôs uma “introdução ao filosofar.
Gerd A. Borheim
Marcos Carvalho Lopes, que realiza a edição deste BotAfala (às vezes Bota a fala), consegue o feito de sair para ouvir, e ouvindo aprender a cantar uma outra linguagem com que filosofar com jovens estudantes universitários da UNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – campus dos Malês, em São Francisco do Conde.
Uma universidade de integração lusófona reúne estudantes dos diferentes países das diferentes línguas portuguesas. O resultado desta polifonia dialetal e cultural, no interior de uma mesma universidade, torna-a um ‘caldeirão’ de produções imaginativas, de explosão de criatividade, construindo para si mesma um espaço identitário enquanto academia. Digo enquanto academia porque para produzir conhecimentos não é necessário que todos rezem pela mesma cartilha dos métodos e dos fazeres científicos.
É neste contexto que surge o Bota a fala, “um projeto de extensão e pesquisa educacional baseado nas artes, que utiliza o hip-hop como linguagem para compor uma Paideia (educação) democrática”. O nome vem do glossário crioulo do livro No Fundo do Canto, de Odete Semedo: “Botar a fala/Bôta fala – lançar a voz, anunciar, dar a sua opinião”. Para lançar a voz há que haver o que dizer. Logo, quem bota a fala bota para fora opiniões, dá razões para o que pensa, exige respostas ainda que estas possam não vir. Ora, lidar com razões é o jogo da filosofia, é o cotidiano do pensar filosófico.
Assim, um projeto integrando extensão e pesquisa qualitativa passou a reunir estudantes e professor num trabalho que contou com as experiências musicais anteriores dos alunos da Guiné-Bissau, de Angola, de São Tomé e Príncipe e de brasileiros. Estar atento à experiência exige compartilhar linguagem. E assim a linguagem do grupo passou a ser aquela do rap/hip-hop, gênero e estilo que não pode ser simplesmente abordado de “fora”, porque desvela um modo de vida, e canta a vida ainda que, como disse o poeta João Cabral de Mello Neto, possa ser “vida severina”.
Para compor um hip-hop é necessário estar disposto ao autoquestionamento e à crítica, num diálogo sempre tenso entre o eu-lírico, poeta, e sua comunidade. Como se sabe da história da independência dos povos africanos de língua portuguesa, as lutas contra os colonizadores e aquelas desencadeadas entre grupos tiveram seus efeitos devastadores na população. Conseguida a independência, houve a tentativa de construção de países socialistas e as canções punham no horizonte a construção do estado e a construção de uma sociedade nacional. Sequestrados os sonhos, restou a realidade, cruel para alguns, benéfica para outros. O hip-hop foi o gênero para a voz da crítica a que muitos jovens dos países lusófonos aderiram.
Isto significa que o hip-hop expõe um processo de criação em que estão presentes, sem qualquer álibi, vozes responsáveis: do que compõe, do que canta, da comunidade de que emerge este discurso musical.
A ‘composição’ deste livro é especular ao processo criativo dos jovens que participam/participaram do projeto. Contém sua polifonia: há artigos assinados pelos estudantes – Magnusson da Costa, assina três artigos; Lauro José Cardoso, com dois textos, Suleimane Alfa Bá, também com dois textos e Eugénio da Silva Evandeco. Entremeando os textos dos alunos, sem assinatura, mas que o leitor logo descobre serem do editor do livro, aparecem as reflexões mais teóricas, com os fundamentos do projeto, e também a própria história do projeto, as andanças e apresentações do grupo. Serão nestes textos que aparecerão as dúvidas do professor, os questionamentos do seu fazer, tão constante quanto acontece nas letras do gênero hip-hop.
Em Nunca tive um brinquedo para chamar de meu, Magnusson da Costa nos faz saber de sua participação da cultura hip-hop, mas também da novidade que estar na universidade, em outro ambiente, trazendo sua linguagem, implica pesquisar as origens do movimento, descobrir seus teóricos, descobrir roteiros percorridos no passado e horizontes de futuro: escolhe pois estudar o hip-hop em seu trabalho de conclusão do curso de graduação.
Em Crônicas de um sem nome, Lauro José Cardoso cria uma personagem fictícia, um “sem nome”, apaixonado pela mulher que deixou em seu país. Esta relação amorosa que se desfaz porque nem ele nem ela foram fieis. A justificativa “Ê non sou de ferro” aparecerá na fala da mulher bela e exótica que o Sem Nome perdeu. Uma cena da narrativa chama atenção:
… [Sem Nome] deparou-se com uma situação, em plena rua, que o deixou revoltado. Uma mulher de meia idade que ele não conhecia de parte alguma, brasileira, aproximou-se pra “puxar” conversa, e lhe perguntou de uma forma inacreditavelmente “sem noção”, se o lugar de onde vinha, a África, as pessoas só moravam em cima das árvores e se, “nós” os africanos tomávamos ou não tomávamos banho por causa dessa tonalidade de pele tão “negra”. Com uma expressão mais natural do mundo, pois pra ela esta “simples abordagem” não tinha nenhum carácter preconceituoso e ofensivo. O Sem Nome, que foi apanhado de surpresa, permaneceu calado durante poucos segundos, e respondeu de forma séria e sem demonstrar qualquer agressividade: “Quem mora em árvores são os pássaros e como sou um ser humano que nem a senhora, mesmo tendo uma “cor” diferente, também tomo banho!”
Em Caminhar com meu pai é seguir o caminho… Suleimane Alfa Bá se apresenta: “sou muçulmano, da etnia Fula. Filho de Mamadu Alfa Bá e de Tete Sane, nascido aos Oito dias de mês de janeiro de Mil e Novecentos e Noventa e Quatro (08/01/1994), em Binar, situado em uma das Regiões da Guiné-Bissau, Oio”. Para além de nos contar de suas experiências anteriores com a música e de sua participação no projeto, conta também sua vida. Estudou direito em seu país, numa faculdade particular. Quando o pai fica desempregado, é obrigado a suspender seus estudos. Mas querendo continuar sua carreira acadêmica, presta provas para vir para a UNILAB. É selecionado. Como ele dirá no seu outro texto – DO ESTILO ROMÂNTICO AO RAP: botAfala e as novas influências musicais – a simples aprovação não faz emergirem os recursos necessários para o deslocamento e para a vida no Brasil. Neste texto narra sua amizade com Gacimo, desde a infância. O amigo, agora comerciante, dá-lhe as condições financeiras necessárias. Transcrevo aqui o diálogo para chamar atenção do leitor para nossas várias línguas portuguesas:
… decidi contar para Gacimo o meu problema, as dificuldades para conseguir o dinheiro da passagem aérea. Fui na casa dele e contei tudo. Ele, de imediato me disse;-Kantu ku pircisa del? (De quanto você precisa?)Não acreditei no que ouvi no momento, lhe disse:-Buna tene komu djudan? (Teria como me ajudar?Ele apenas respondeu:
kontan só canto ku buna pircisa del?( Só me fala de quanto você precisa?)…Contei, e ele, sem pensar muito, me disse:-Bu pudi fica sucegadu, se Deus kiri, ika na sedu pa falta de dinheiro k na pui buka konsegui forma na Brasil, bim amanhã u bin toma dinheiro… (pode ficar tranquilo, se Deus quiser, não será por falta dedinheiro que te impedirá de conseguir se formar no Brasil, passe aqui amanha para pegar o dinheiro).
Em O Bill Pensador que não virou Gabriel, Magnusson da Costa nos apresenta MV Bill que “escancarou a realidade das favelas, lançou a verdade crua no “Soldado do Morro” e ganhou o título de apologista ao crime. Talvez Bill tenha pouco talento para ficção; ou o rap que é tão apegado à realidade não a ficção; ou a melanina que não ajudou; ou é a guettofobia do qual o GOG fala”. Aqui a referência em contraponto é Gabriel, o Pensador, sem que o autor faça-lhe uma crítica, mas faz notar que o sucesso de um artista depende de muitos fatores, e um deles é precisamente seu tema. Lauro José Cardoso nos narra, em Foi bom desse jeito o seu encontro com Martinho da Vila, que tantas e tantas vezes escutara em São Tomé e Príncipe, mencionando “Já tive mulheres de todas as cores…” e “Canta, canta minha gente…deixa tristeza pra lá”, quando da entrevista do grupo no programa de Pedro Bial (Rede Globo). E Magno Costa, em O dia em que estive sob um clique conta outro encontro, este nada musical e nada artístico, mas típico da ação policialesca do Brasil:
[o policial] Mandou-me abrir as pernas (e não era para me fuder, tá?), começou a me apalpar o corpo todo, botou a mão entre minhas pernas, subiu pra cima, apalpando… não conseguiu nem tocar as minhas bolas de tão murchas que estavam, deve ter achado que era transgênero. Pediu-me documentos, mostrei. Viu que era estrangeiro, e perguntou donde era, e eu disse-lhe; aí amenizou o tom de voz.
-Relaxa, essa é uma abordagem de rotina, aqui no Brasil é comum, infelizmente. Explicou ele.
-Hum, tá! respondi. Já conseguindo respirar.
-Nunca passou por isso? No seu país não se faz? Perguntou o policial.
Respondi que não. Perguntou o que vim fazer no Brasil, respondi que vim estudar e expliquei-lhe sobre o projeto da minha universidade e que curso estava fazendo, que cidade está morando; já estava todo empolgado com minha palestra, e meu ônibus chegou.
Em ENTRE O HIP HOP E O KUDURO: uma travessia, Eugénio da Silva Evandeco relata seu encontro, ainda muito jovem, com a música:
A minha vida no mundo da música começou num momento em que o estilo musical denominado ‘’kuduro’’ estava no seu auge, isto nos meados de 2006. Na altura, o estilo no qual me refiro aqui era feito apenas por jovens, e muitos destes jovens envolviam-se em práticas ilícitas. Sendo assim, o conteúdo era bastante marginalizado pela sociedade angolana, como o funk aqui no Brasil e o hip hop em diversas partes do mundo, porque os praticantes deste estilo levavam para as suas músicas suas vivências, as suas práticas antissociais e sem censurar as suas expressões. Dentre os tantos kuduristas que deram bastante contributo para esse estilo na época e impulsionaram vários jovens e adolescentes.
Todos estes textos, ao mesmo tempo narrativos e reflexivos, vêm entremeados por textos não assinados e seguramente de autoria do editor: eles dão conta dos estudos que o grupo fez, das referências teóricas e dos percalços que um projeto como este tem que atravessar:
O Bota a fala começou em janeiro de 2015, partindo do desafio de utilizar uma linguagem que os estudantes dominavam e gostavam, desenvolvendo canções que servissem tanto para das boas vindas aos estudantes (estrangeiros e brasileiros que chegavam à UNILAB), quanto como uma forma de denunciar e combater o preconceito, um problema que no cotidiano surgiu como novidade negativa para aqueles que vieram de países lusófonos da África para estudar no Brasil. A miragem da democracia racial ainda engana…
As referências passam por filósofos como John Dewey, Richard Rorty, Amílcar Cabral, Boaventura de Sousa Santos e principalmente por Richard Shusterman e Cornel West. A filosofia da educação que embasou o trabalho tem origem em Paulo Freire e sua Pedagogia do Oprimido. Para além, o autor afirma: dialogamos com os letramentos de reexistência de Ana Lúcia Silva Souza; da filosofia pop de Charles Feitosa; da afroperspectiva de Renato Noguera. Somente por esta listagem se pode perceber o quanto este grupo estudou e a o quanto um projeto no ambiente universitário que assume outra linguagem acaba por exigir muito mais estudos do que uma introdução ao pensamento de alguns filósofos.
Os temas dos estudos apresentados passam pelas questões da negritude [A apropriação positiva do nome negro é, na descrição de Mbembe, uma forma de subversão daquilo que é atribuído e muitas vezes interiorizado como sendo a “consciência ocidental do negro”. Esta subversão, de certo modo, “explode por dentro” a própria função preconceituosa do nome “negro”, que redescrito, apropria-se do passado de escravatura, segregação e colonização, em que os corpos eram utilizados como objetos sem voz, para afirmar o agora em que se tem o microfone nas mãos, como aquele em que se afirma/cria um novo sentido, de protagonismo, de agenciamento]; pelos gêneros musicais – o samba e o hip-hop; pela lusofonia; pelo preconceito racial, experiência que os jovens estudantes de África tiveram que aprender a sofrer por aqui; e pelo estudo da formação da subjetividade, trabalhando com autores pouco conhecidos em nossa academia.
Este é um livro composto de forma plurimodal, com diferentes gêneros discursivos, de modo que as vozes falam, concertam entre si e nos oferecem narrativas, textos argumentativos, letras de hip-hop, fotos, entrevistas… É muito fôlego numa obra só, mas esta diversidade espelha a diversidade do que é o hip-hop e do que são as culturas dos sujeitos autores.
Antes de concluir, trago para cá uma passagem que me tocou: trata-se de uma análise linguística que corrobora as diferentes formulações da tese de que a subjetividade é construída na relação com a alteridade:
O estudioso da religiosidade africana Mutombo Nkulu-N’Sengha descreve, a partir da língua Luba, uma relação dinâmica entre Muntu, Kintu e Bumuntu na definição do que é um ser humano. Muntu seria um termo genérico que na descrição deste autor abriga todos os seres humanos. Já Bumuntu ressalta a “essência” de um ser humano “autêntico” (termo que na África do Sul aparece como Ubuntu; e que mantem a mesma concepção nas palavras Eniyan ou Ywapele em Ioruba). Essa “essência humana” não é algo dado, mas uma autoconstrução em relação a qual cada um é responsável e se relaciona com o respeito e a relação com os outros. Neste sentido, quando se pergunta o que é um ser humano, a resposta africana seria Bumuntu, designando que “uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”, ou noutra expressão, “eu sou porque nós somos”. Estas descrições mostram a necessidade de identificação e cuidado com o sentimento dos outros, assim como cooperação e reconhecimento da dignidade de cada ser humano.Alguém que não age de modo adequado perde ou falha em sua humanidade e se torna um Kintu, termo que designa objetos inanimados, mas também o mal caráter ou comportamento. Entre Kintu e Muntu haveria uma oscilação, de tal modo que a ameaça de ser considerado alguém que perdeu a humanidade tornando-se mero objeto é algo que exige cuidado – ético e estético – constante em relação ao comportamento: um homem belo/bom é como um peixe dentro d’água, já o que não tem caráter é como um boneco de madeira (NKULU-N’SENGHA, 2001, p. 81).A questão que a tradição bantu coloca para o hip-hop é a de que, ao assumir o termo “nigga” não se faz o mesmo com a condição de “Kintu”, colocando-se como produto dentro do jogo e lógica do mercado? A forma como as mulheres são tratadas nas letras de hip-hop não negam muitas vezes a condição de Muntu? A resposta para esta questão não é unívoca, mas num tempo em que somos governados por gangsters, tanto no Brasil como nos EUA, preservar o sentido de comunidade é um desafio que merece cuidado. As perspectivas de ostentação podem nos direcionar para a perda daquilo que nos faz humanos.
Ser “muntu”, constituir-se pelos outros, evitar responsavelmente tornar-se “kintu”: eis o que me parece ser o horizonte que conduz o trabalho pedagógico do Prof. Marcos Carvalho Lopes. Tenho certeza que seus alunos, enriquecidos pela participação no grupo, retornarão à sua vida modificados tanto porque carregarão muito mais informações sobre suas próprias práticas, quanto porque se deixaram constituir de forma distinta em um país outro.
Por tudo isso, e muito mais, BotAfala provocará escutas responsivas que sempre levam a falas responsivas nesta corrente infinita de nossas construções das compreensões das coisas e das gentes com que coabitamos, cuja pluralidade cultural enriquece a experiência humana.
Barequeçaba, fevereiro de 2019
João Wanderley Geraldi
| Ano de lançamento | 2020 |
|---|---|
| ISBN [e-book] | 978-65-87645-44-5 |
| Número de páginas | 229 |
| Organização | Marcos Carvalho Lopes |
| Formato |