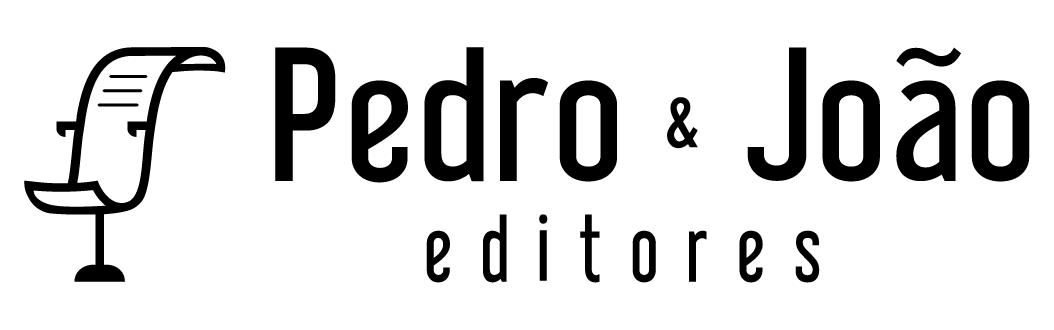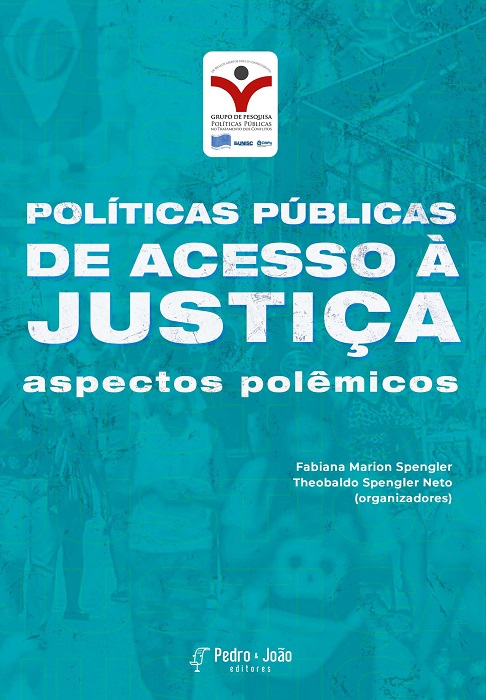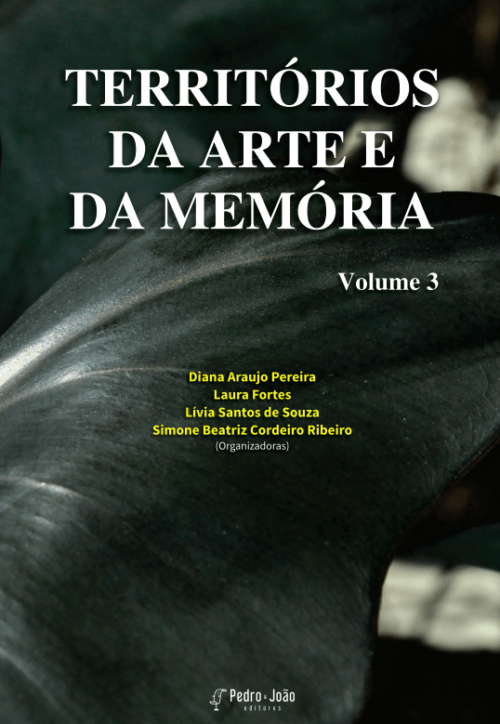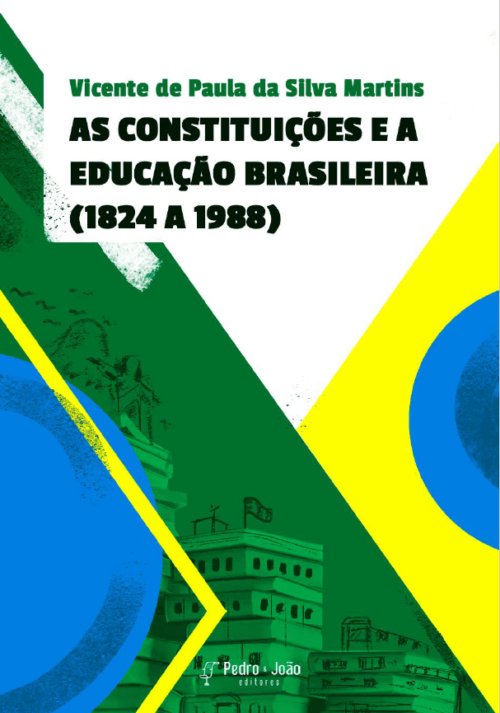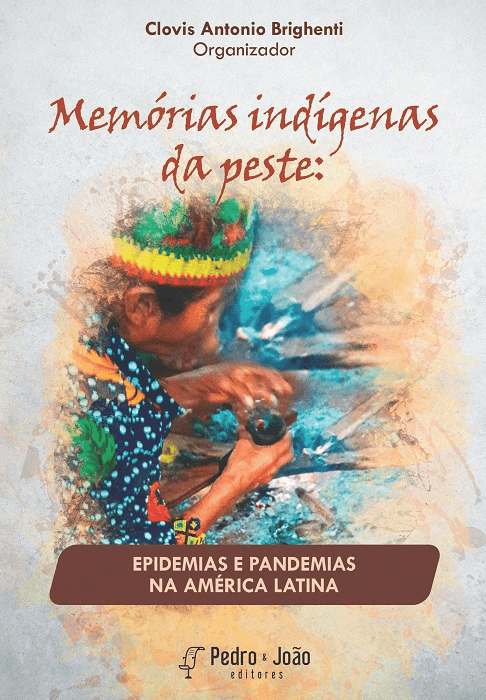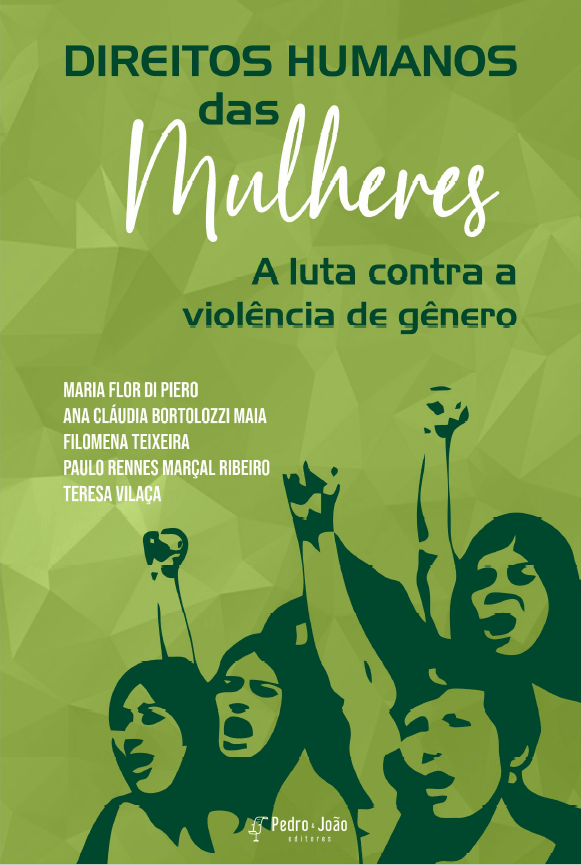
Direitos humanos das mulheres: a luta contra a violência de gênero
Autoria: Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Filomena Teixeira, Maria Flor Di Piero
APRESENTAÇÃO
A discussão sobre direitos humanos das mulheres suscita uma série de questões, a começar pela própria expressão “direitos humanos das mulheres”. Por que utilizá-la se a noção de direitos humanos já, supostamente, contempla a todos? Esta é, sem dúvida, uma primeira pergunta a ser respondida. Os direitos humanos estão incluídos em um contexto histórico de reconhecimento de direitos a partir da natureza humana, ou seja, todo ser humano seria sujeito de direitos pelas características de sua própria natureza. Os direitos humanos estariam, assim, ancorados na noção de dignidade humana e deveriam ser entendidos como universais: abrangeriam todas as pessoas e seriam passíveis de acolhimento subjetivo.
A Declaração dos Direitos Humanos é uma resposta direta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, ao holocausto. Nesse contexto surgiu como uma resposta da brutal violência cometida pelo Estado alemão contra minorias sociais estigmatizadas. Essa violência havia ocorrido no espaço público, ou seja, na arena pública de debate, aonde se fazia a política. Os direitos humanos inicialmente cobriam, portanto, todas as violências ocorridas no espaço público contra um possível segmento de pessoas. Ao longo do tempo, essa noção de direitos humanos foi se alargando e garantindo a proteção de aspectos específicos, tais como os direitos à educação e à saúde.
É nesse momento que os direitos humanos começam a ser analisados a partir das relações de gênero, ou seja, a partir da compreensão de que vivemos em uma sociedade que estabelece uma hierarquia de gêneros, privilegiando os homens. Os direitos humanos inicialmente garantiam a proteção irrestrita à vida privada, mas muitas violações infligidas contras às mulheres ocorrem ainda hoje no âmbito privado familiar. Utilizando a justificativa da proteção à vida privada, muitas violações contra as mulheres permaneciam impunes. O movimento feminista denuncia, então, esta situação e aponta que os Estados devem proteger todas as vidas, inclusive no espaço privado. Há, com isso, uma redefinição do que é o espaço público e privado e do alcance do Estado quanto a esses espaços.
Houve, portanto, o reconhecimento de que a interpretação dos direitos humanos que se fazia era também atravessada pelas relações de gênero estabelecidas estruturalmente na sociedade e que existiam especificidades que acometiam sobretudo às mulheres, em razão da discriminação de gênero, deixando-as vulneráveis, tal como a violência doméstica e as violações sexuais e reprodutivas. Por isso a necessidade de se estabelecer os direitos humanos das mulheres, indicando que, agora, os Estados seriam responsáveis pela dignidade de todas as mulheres naquilo que lhes diferenciava.
Desta forma as mulheres tiveram um grande desafio no âmbito da Organização das Nações Unidas, tendo de empreender extensivos debates e embates para que se reconhecessem os direitos humanos das mulheres. Como afirma Jelin (1994), as mulheres tiveram “uma participação ativa na redefinição permanente do próprio conceito de direitos humanos que permitia completar a tarefa de superar o enquadramento masculino original que lhe deu origem sem que isso signifique abandonar os ideais de liberdade e igualdade que o inspiram” (1994, p.149).
Este livro apresenta a luta histórica do estabelecimento dos direitos humanos das mulheres e como a centralidade da discussão sobre a violência contra as mulheres foi o seu fio condutor. A violência contra as mulheres é uma especificidade da violação dos direitos humanos das mulheres e sua raiz está na discriminação de gênero. O enquadramento legal dessa questão na ordenação jurídica dos países está de acordo com os principais tratados internacionais do tema. As convenções internacionais são, portanto, um importante instrumento de pressão para elaboração de leis e políticas públicas de proteção às mulheres. Na América Latina a maioria dos países conta com leis de combate à violência contra a mulher. Entretanto, muitas vezes as leis cobrem apenas a violência doméstica, como é o caso do Brasil. Pretende-se chamar a atenção para o fato da necessidade de estabelecermos leis de ampla cobertura à violência contra as mulheres, que não seja restrita apenas à violência doméstica, mas também à violência baseada em gênero na escola, por exemplo, pois tanto as profissionais da educação quanto as estudantes devem ter garantidos os seus direitos de viver uma vida plena e sem violência.
Este livro foi construído a partir da tese de doutorado “Violência Baseada em Gênero na Escola: análise a partir de texto jornalísticos” defendida no Programa de Educação Escolar na UNESP de Araraquara, financiada pelo CNPq. Na Introdução (Capítulo 1) discutimos sobre igualdade de gênero no Brasil e na América Latina, a partir de alguns dados e conceitos fundamentais, tais como empoderamento e justiça de gênero. No Capítulo 2, “Direitos Humanos das Mulheres”, tratamos da violência contra a mulher a partir das promulgações de tratados internacionais e de leis nacionais. Optamos por fazer um levantamento histórico das principais conferências no âmbito das Nações Unidas, passando pela promulgação da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW, 1979) e pelo estabelecimento dos direitos humanos das mulheres em 1993, até a criação da ONU Mulheres. No Capítulo 3 nos aprofundamos no escrutínio dessa Convenção, adotada pela ONU em 1979 e complementada pelo Protocolo Facultativo, em 1999. Escolhemos esse documento por ser o principal tratado de abrangência universal.
No Capítulo 4, “Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher” (Convenção de Belém do Pará), adotada pela OEA em 1994, explanamos sobre a sua promulgação, bem como sobre os avanços que traz na compreensão e descrição da violência contra as mulheres. Escolhemos este documento por ser de abrangência regional e por ser o primeiro tratado no mundo que aborda especificamente a violência contra a mulher chegando ao Capítulo 5, “Leis brasileiras contra a violência de gênero”, em que abordamos a Lei Maria da Penha (1996) e a Lei do Feminicídio (2015), no contexto do Brasil, antes de tecermos as “Considerações Finais”, no Capítulo 6.
Esperamos, enfim, que este livro seja uma contribuição no combate à violência de gênero, no sentido de ser um instrumento para educadoras e educadores, bem como para a sociedade em geral, na compreensão da importância dos direitos humanos das mulheres e dos meios necessários para garantir seu devido cumprimento.
Esperamos também que esta discussão proporcione subsídios para a pressão por leis que assegurem vidas dignas às mulheres e garantam sua segurança em todos os espaços, inclusive nos espaços públicos, como as escolas.
| Ano de lançamento | 2019 |
|---|---|
| Autoria | Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Filomena Teixeira, Maria Flor Di Piero |
| ISBN | 978-85-7993-747-7 |
| ISBN [e-book] | 978-85-7993-823-8 |
| Número de páginas | 113 |
| Formato |